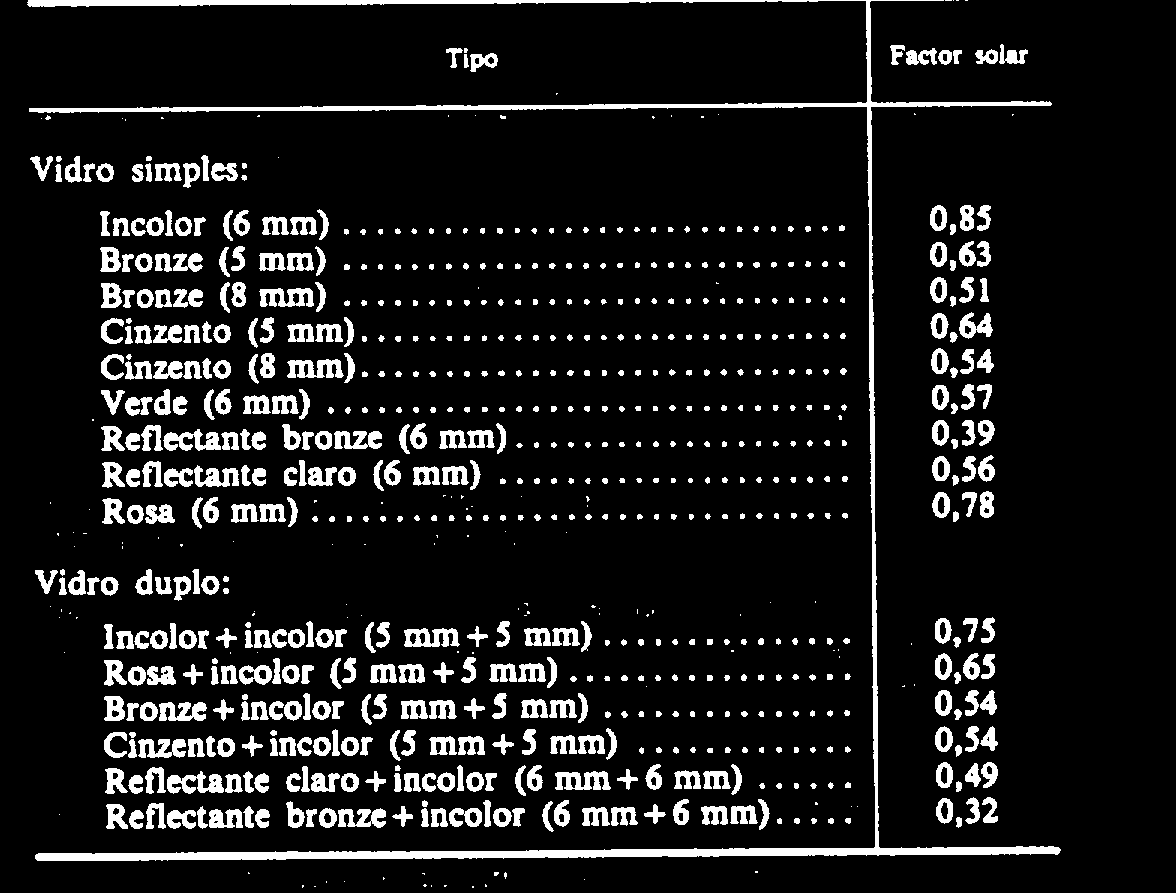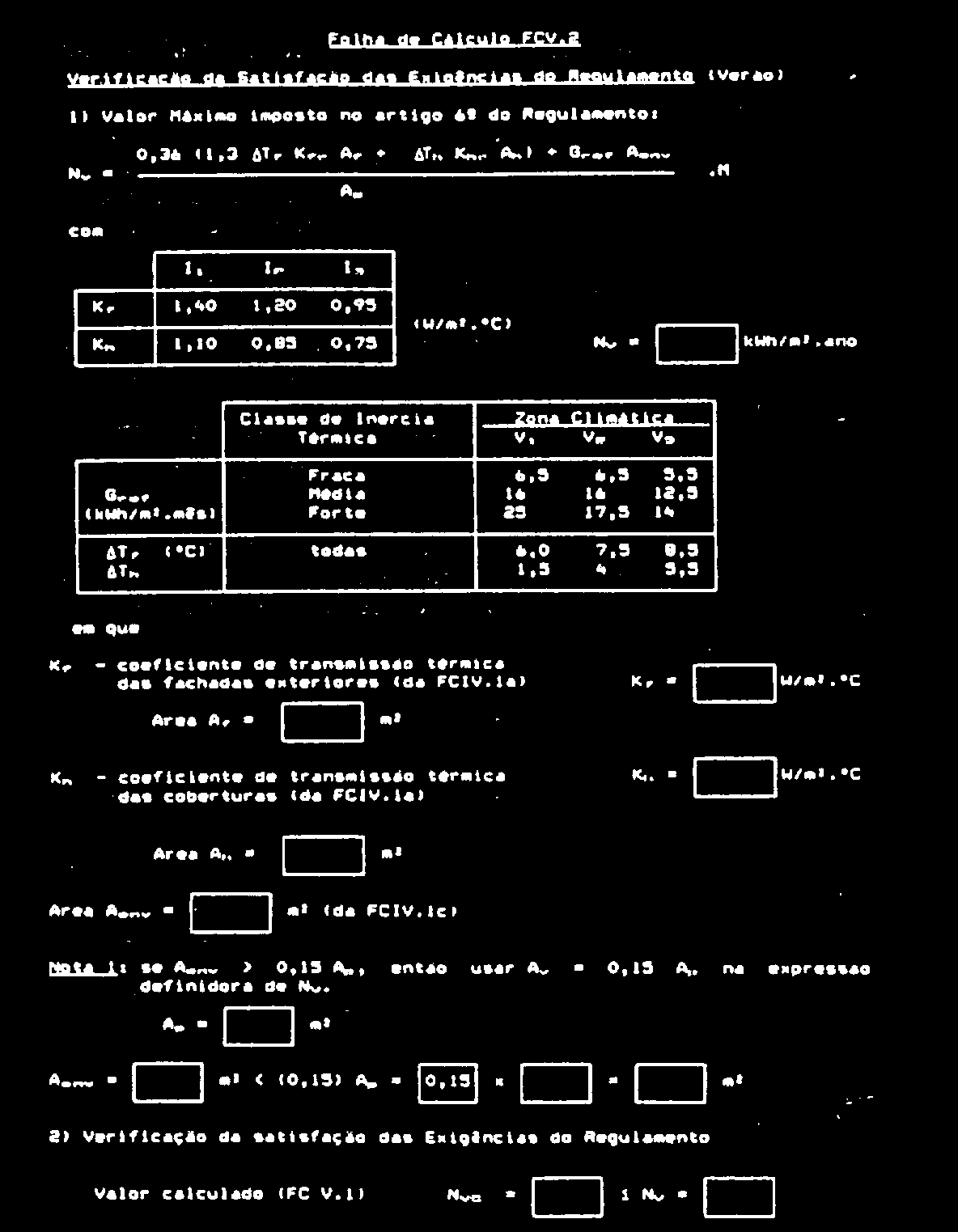
Documento - Bloco 5/5
Versão 1- Originária
Cód. Documento
5047
Decreto-Lei n.º 40/90 de 06-02-1990
Artigo 1 .º, Art. 2.°, Anexos, Anexo, Artigo 1.°, Artigo 2.°, Artigo 3.°, Artigo 4.°, Artigo 5.°, Artigo 6.°, Artigo 7.°, Artigo 8.°, Artigo 9.°, ANEXO I, ANEXO II, ANEXO III, ANEXO IV, ANEXO V, ANEXO VI
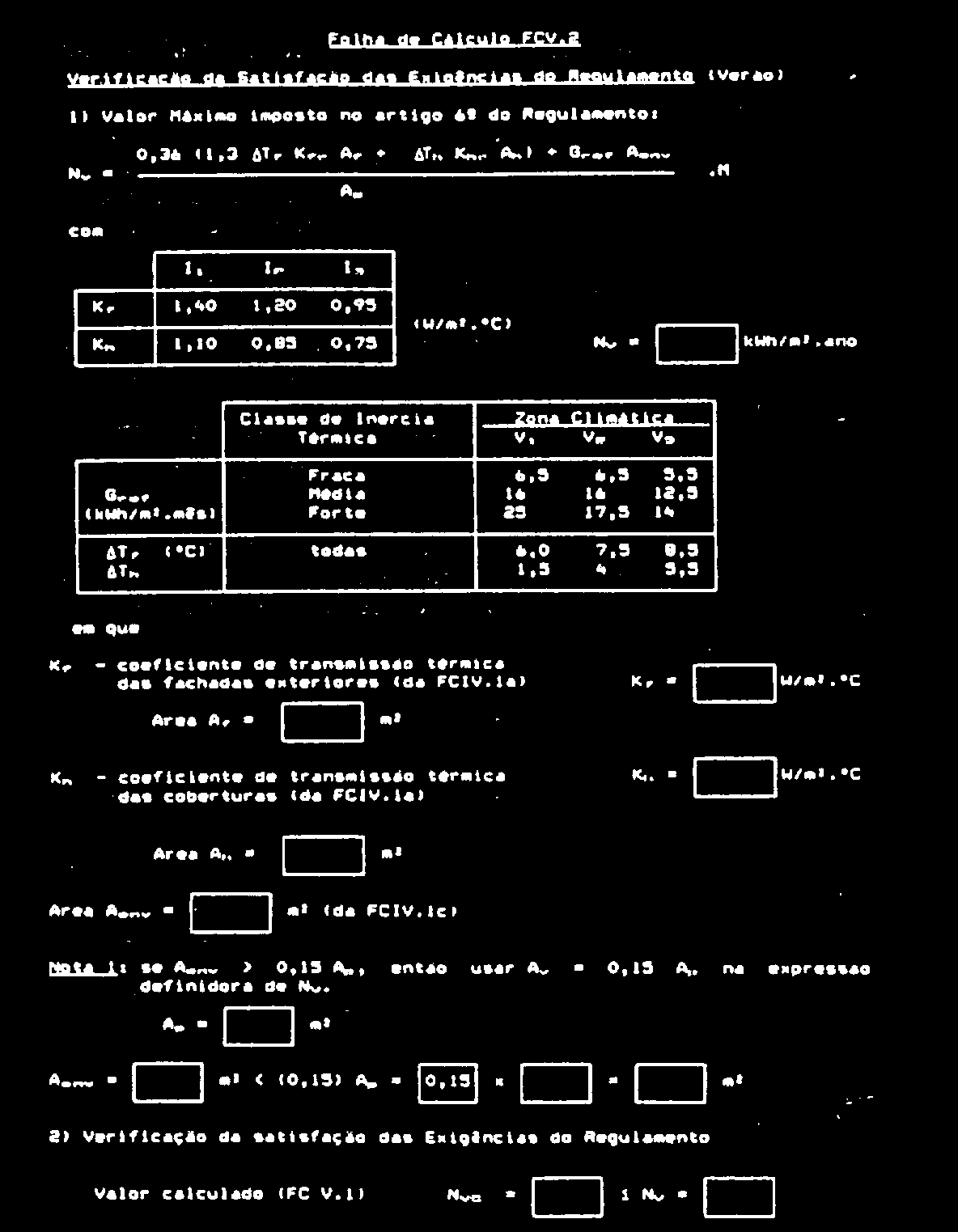
Quantificação dos parâmetros térmicos
1—Cálculo do coeficiente de transmissão térmica (K)
1.1—Princípio de cálculo.—O coeficiente de transmissão térmica, K, de elementos compostos constituídos por um ou vários materiais, em camadas de espessura constante, é calculado pela seguinte fórmula:
![]()
em que:
Rj = ej/lj—resistência térmica da camada j, em m2° C/W;
ej—espessura da camada j, em metros;
l
j—condutibilidade térmica da camada j, em W/m. °C;1/hi, 1/he—resistências térmicas superficiais interior e exterior, respectivamente, em m2 °C/W;
Rar—resistência térmica de espaços de ar não ventilados, em m2 °C/W.
Os valores da condutibilidade térmica dos materiais de construção mais utilizados e os valores das resistências térmicas das camadas não homogéneas mais utilizadas constam da publicação do LNEC Coeficientes de Transmissão Térmico de Elementos da Envolvente dos Edifícios.
Os valores das resistências térmicas superficiais em função da posição do elemento construtivo e do sentido do fluxo e calor constam do quadro VI.1.
Quadro VI.1
Resistências térmicas superficiais
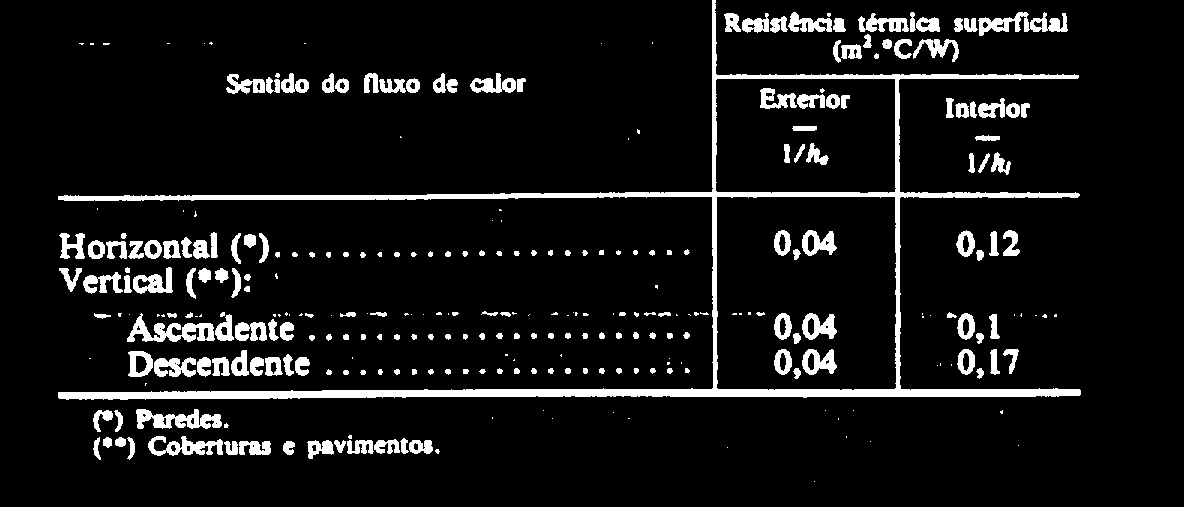
Os valores das resistências térmicas dos espaços de ar não ventilados ou ventilados são tratados nas secções 1.2 e 1.3 deste anexo, respectivamente.
A publicação do LNEC Coeficientes de Transmissão Térmica de Elementos da Envolvente dos Edifícios contém uma listagem extensa do valor dos coeficientes de Transmissão térmica dos elementos de construção mais comuns, obtidos segundo este método de cálculo. Quando um edifício utilize uma solução construtiva não tabelada nesta publicação o respectivo valor de K deve ser obtido usando o princípio de cálculo anteriormente descrito.
1.2—Resistência térmica dos espaços de ar não ventilados (Rar).—A resistência térmica de um espaço de ar, Rar será considerada no cálculo do coeficiente de transmissão térmica para espaços de ar com espessuras superiores a 5 mm, no caso de elementos pré-fabricados, e a 15 mm, no caso de elementos construtivos realizados em obra.
No quadro VI.2 apresentam-se os valores da resistência térmica dos espaços de ar não ventilados, que devem ser adoptados para o cálculo do coeficiente de transmissão térmica, em função da posição, espessura do espaço de ar e do sentido do fluxo de calor.
Quadro VI.2
Resistência térmica dos espaços de ar não ventilados
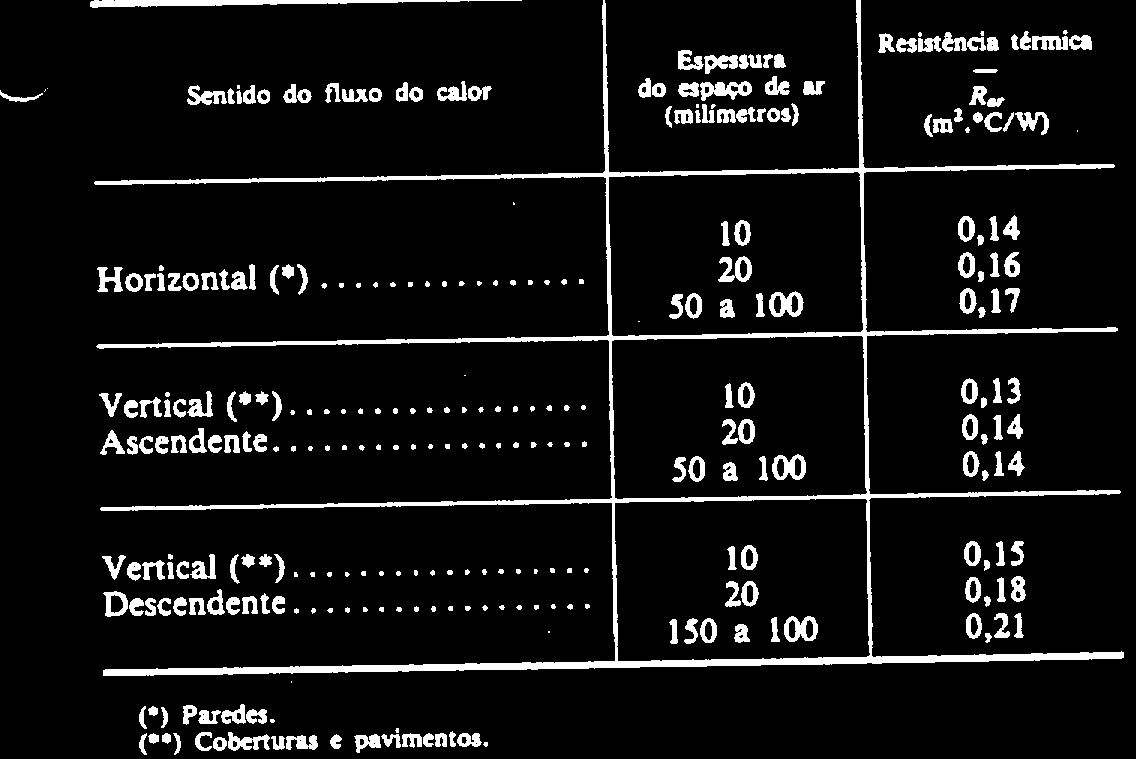
1.3—Coeficiente de transmissão térmica dos elementos com espaços de ar ventilados.—Se o elemento de construção compreender espaços de ar ventilados, o valor do seu coeficiente de transmissão térmica dependera então do grau de ventilação desses espaços.
A caracterização da ventilação dos espaços de ar faz-se da seguinte forma:
Para as paredes verticais, a partir do quociente entre a área total de orifícios de ventilação, s, em metros quadrados, e o comprimento da parede, L, em metros;
Para as coberturas e elementos inclinados, a partir do quociente entre a área total de orifícios de ventilação, s em metros quadrados, e a superfície do elemento estudo, A em metros quadrados.
No quadro VI.3 são definidos os diversos graus de ventilado em função de s/L e s/A.
Quadro VI.3
Grau de ventilação de espaços de ar
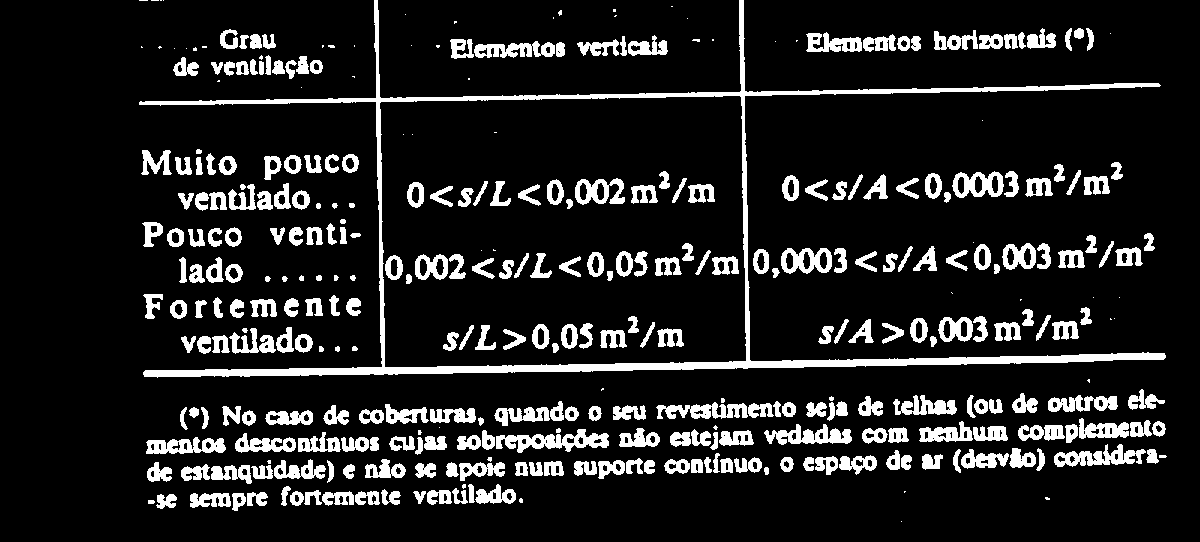
O valor do coeficiente de transmissão térmica, K, de um elemento de construção que contenha um espaço de ar ventilado será então dado por:
i) Elemento com espaço de ar muito ventilado.
Supõe-se que o espaço de ar não é ventilado e o valor do coeficiente K será determinado como se referiu na secção 1.1, considerando a resistência térmica do espaço de ar indicada no quadro VI.2.
ii) Elemento com espaço de ar pouco ventilado.
O valor do coeficiente K será dado pela expressão:
K = K1 + a (K2-K1)
em que:
K1 é o coeficiente K considerando o espaço de ar não ventilado;
K2 e o coeficiente K do elemento de construção supondo inexistente o pano exterior, isto é:
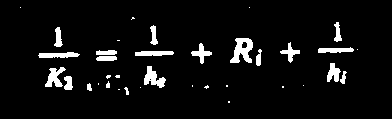
onde Ri é a resistência térmica do pano interior da parede; a é um coeficiente que, no caso dos elementos horizontais, toma o valor de 0,4 e no caso de elementos verticais toma os valores dados no quadro VI.4, em função do quociente entre a resistência do elemento exterior, Re, e o da resistência do elemento interior, Ri, e da relação s/L.
Quadro VI.4
Valores do coeficiente a
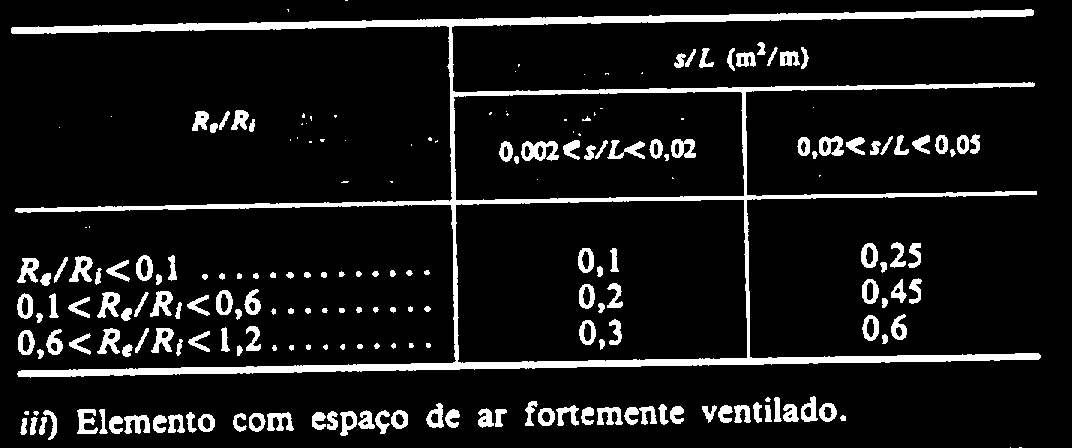
Supõe-se que o pano exterior e inexistente sendo K = K2 do caso ii).
2—Cálculo do factor de concentração de perdas
O factor de concentração de perdas, fc, de um elemento de construção heterogéneo em superfície pode calcular-se pela expressão seguinte:
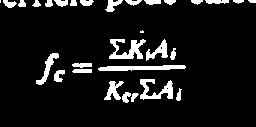
em que Ki e Ai são, respectivamente, os coeficientes de transmissão térmica e as áreas de cada zona parcial homogénea em superfície em que se subdivide o elemento de construção e Kcr é o coeficiente de transmissão térmica em superfície corrente.
O coeficiente de concentração de perdas pretende traduzir a heterogeneidade dos elementos verticais opacos da envolvente, sendo as heterogeneidades devidas, nomeadamente, às caixas de estores, vigas, topo das lajes e pilares.
Os valores dos coeficiente de transmissão térmica, Ki, na expressão anterior podem ser obtidos da publicação do LNEC Coeficientes de Transmissão Térmica de Elementos da Envolvente dos Edifícios ou podem ser determinados segundo a metodologia descrita na fig. VI.1.
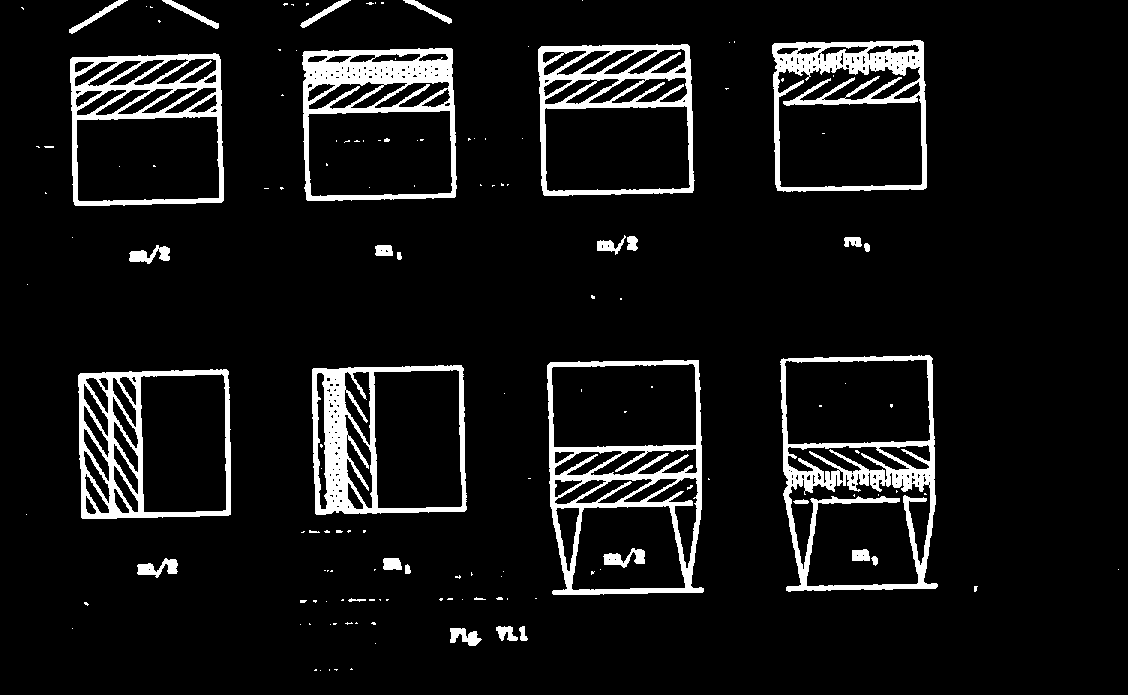
As áreas são medidas pelo exterior. No caso das caixas de estore, cujo efeito deve ser considerado quando as caixas forem interiores, admitir-se-á que o ar no seu interior está à temperatura exterior. Nas situações correntes de paredes exteriores e desde que a área das heterogeneidades não seja superior a 30% da área total das paredes, podem adoptar-se os valores convencionais do factor de concentração das perdas fixados no quadro VI.5.
Quadro VI.5
Valores convencionais do factor de concentração de perdas (fc)
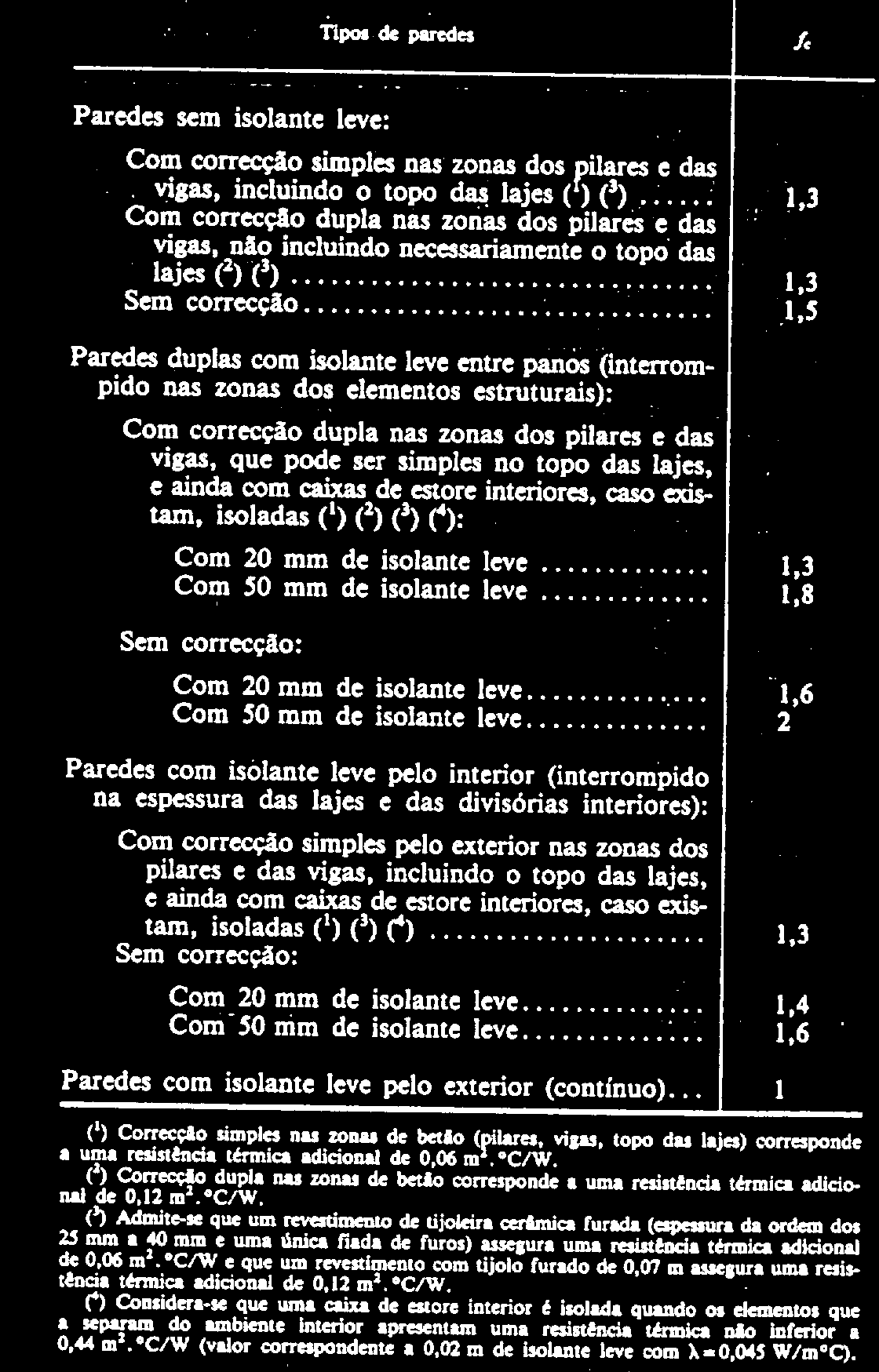
Para as paredes interiores poderá admitir-se, sem necessidade de justificação complementar, que o factor de concentração das perdas é igual a 1,3.
Nos casos correntes de coberturas e pavimentos admitir-se-á que esse factor é igual à unidade. Contudo, se houver heterogeneidades importantes, deve ser seguido o procedimento indicado no anexo IV.
3—Quantificação da inércia térmica interior
3.1-Princípio de cálculo —A inércia térmica de um edifício é função da capacidade de armazenamento de calor que os locais apresentam e depende da massa superficial útil de cada um dos elementos da construção.
A massa superficial útil, Mi, de cada elemento interveniente na inércia térmica é função da sua localização no edifício e da sua constituição, nomeadamente do posicionamento do isolamento térmico. Podem ser definidos os seguintes casos:
a) Elemento da envolvente exterior, elemento de construção em contacto com outra habitação ou com locais fechados não enterrados (v. fig. VI.1).
Se estes elementos não possuem isolamento térmico, contabiliza-se metade da sua massa, Mi = m/2. No entanto, se existir um isolamento térmico (material de condutibilidade térmica inferior a 0,065 W/m2. °C, com uma espessura que conduza a uma resistência térmica superior a 0,5 m2. °C/W) considera-se somente a massa situada do lado interior do isolamento Mi = mi.
Os valores ni ou m/2, nunca podem ser superiores a 150 kg/m2.
b) Elementos em contacto com o solo (v. fig. VI.2).
Se estes elementos não possuem isolamento térmico, contabiliza-se uma massa Mi de 150 kg/m2. Caso contrário, não se toma em consideração senão a massa interior ao isolamento Mi = mi, sem ultrapassar o limite de 150 kg/m2.
c) Elementos interiores (paredes e pavimentos—V. fig. VI.3).
Considera-se a massa total do elemento Mi = m, sem ultrapassar os 300 kg/m2.
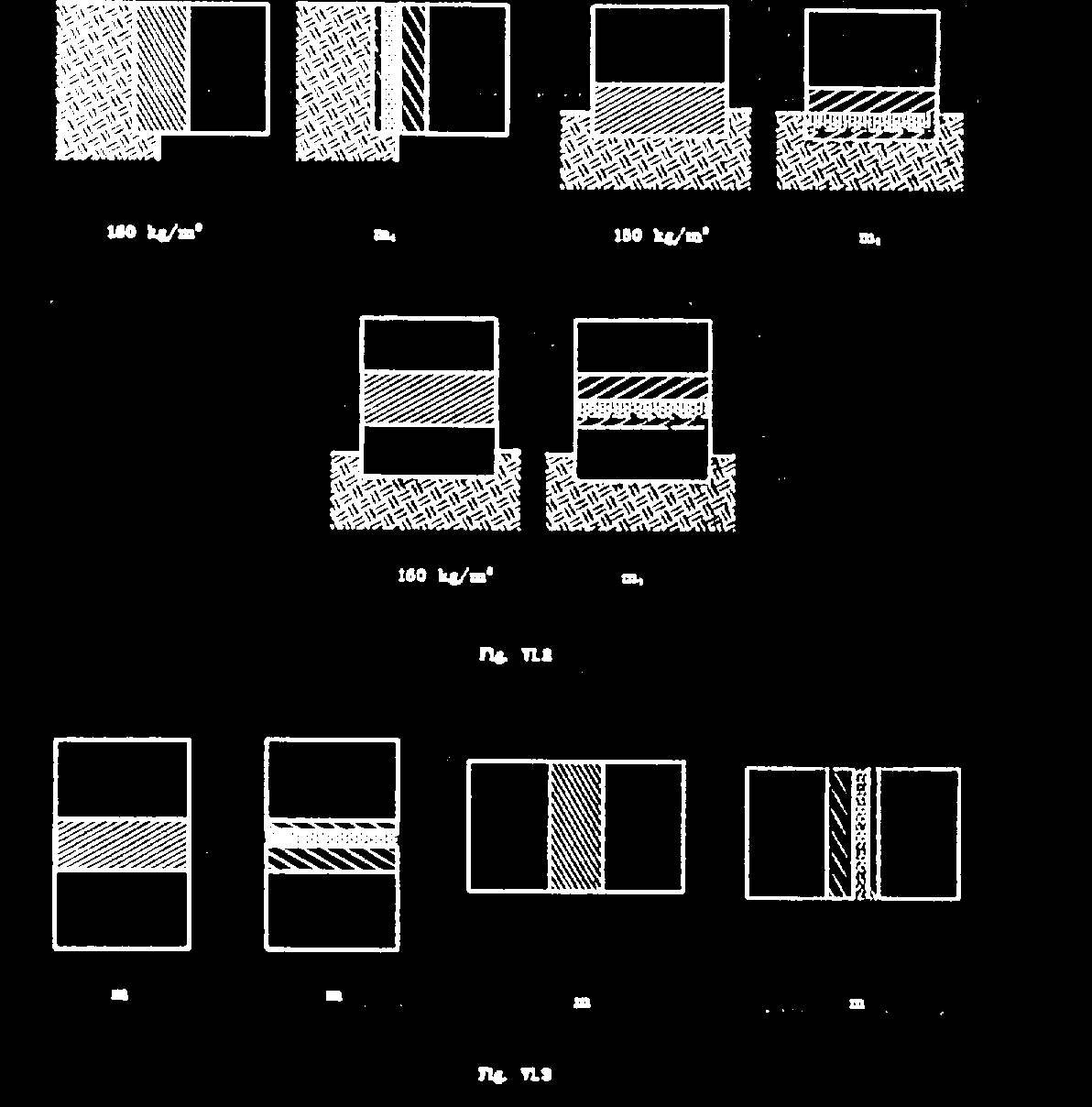
Para os elementos de construção em que o revestimento apresente uma resistência térmica, R, compreendida entre 0,14 e 0,5 m2. °C/W, devemos reduzir a massa superficial útil, Mi, anteriormente calculada de 50%.
A título de exemplo apresentam-se, em seguida, ordens de grandeza da resistência térmica de alguns revestimentos correntes:
Parquet de madeira ............................................................................. R<0,14 m2·°C/W
Revestimento cerâmico ....................................................................... R<0,14 m2·ºC/W
Alcatifa espessa com base de borracha ..................................... 0,14<R<0,50 m2·°C/W
Soalho sobre laje com espaço de ar............................................ 0,14<R<0,50 m2·°C/W
A massa superficial útil por metro quadrado de área de pavimento, I, é então calculada pela seguinte expressão:
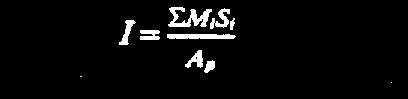
em que:
Mi—massa superficial útil do elemento i (kg/m2);
Si—superfície do elemento i (metro quadrado);
Ap—área de pavimento (metro quadrado);
O processo de calcula está esquematizado no quadro VI.6.
As massas dos diferentes elementos de construção podem ser obtidos em tabelas técnicas ou nas seguintes publicações do LNEC:
Caracterização Térmica de Paredes de Alvenaria—ITE 12 (1986);
Caracterização Térmica de Pavimentos Pré Fabricados—ITE 11 (1986);
ou ainda em outra documentação técnica disponível.
Nota. - As massas indicadas para pavimentos nas publicações acima referidas do LNEC correspondem aos pavimentos em tosco.
As massas correspondentes aos revestimentos podem ser obtidas em tabelas técnicas.
Quadro VI.6
Cálculo da massa superficial útil por metro quadrado da área de pavimento
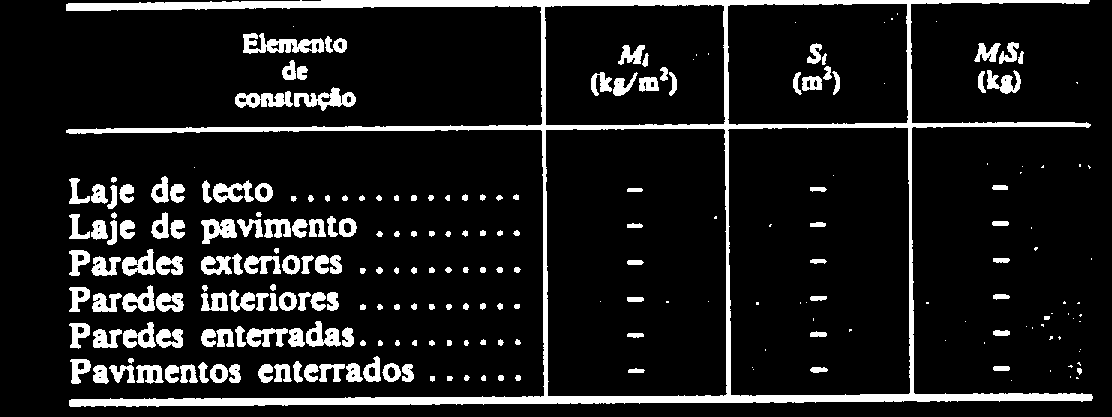
Total:
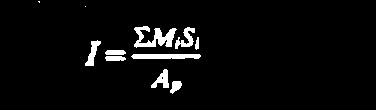
Uma zona independente de um edifício apresenta inércia média desde que a massa superficial útil total do pavimento e do tecto seja superior a 150 kg/m2 (v. a secção 3.1).
Uma zona independente de um edifício apresenta inércia forte desde que a massa superficial útil total do pavimento e do tecto seja superior a 300 kg/m2 e a massa superficial útil total por metro quadrado de área de pavimento das divisórias e fachadas seja superior a 100 kg/m2 (v. a secção 3.1).
Segundo o valor encontrado para I, definem-se três classes de inércia de acordo com o quadro VI.7.
Quadro VI.7
Inércia térmica
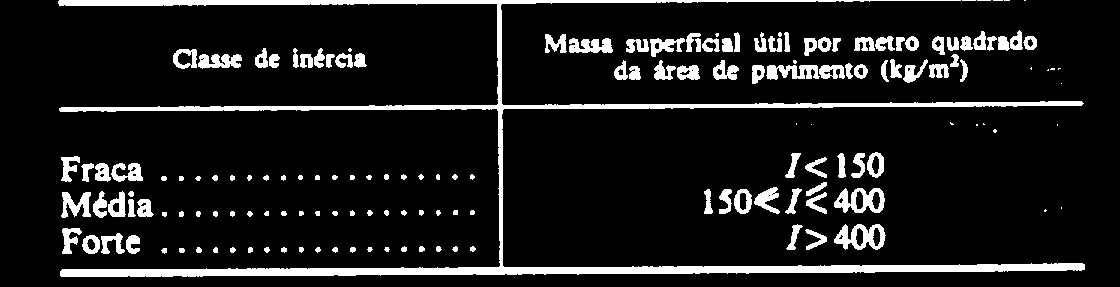
Nota.—Nas construções correntes de edifícios de habitação a inércia é forte.
4—Valores do factor solar de alguns tipos de vãos envidraçados
O factor solar de um vão envidraçado, com ou sem protecção solar, é igual ao quociente entre a energia que entra através do vão envidraçado e a energia da radiação solar que nele incide.
Apresentam-se no quadro VI.8 os valores do factor solar de vãos envidraçados e suas protecções no Verão. Assume-se a utilização de vidro corrente com um factor solar de 0,85. Caso seja utilizado um vidro com características diferentes, o factor solar, S, para os vãos com protecção interior ou com protecção exterior não opaca é obtido pelo produto do valor indicado no quadro VI.8, S', pelo valor do factor solar do vidro sem protecção, indicado no quadro VI.9, dividido por 0,85:
![]()
com:
S'—factor solar da protecção solar, obtido do quadro VI.8;
Sv—factor solar do vidro obtido do quadro VI.9.
Nos restantes casos de utilização de vidro não corrente, o factor solar é o indicado no quadro VI.9.
Quadro VI.8
Valores do factor solar de alguns tipos de protecção solar de vãos envidraçados correntemente utilizados
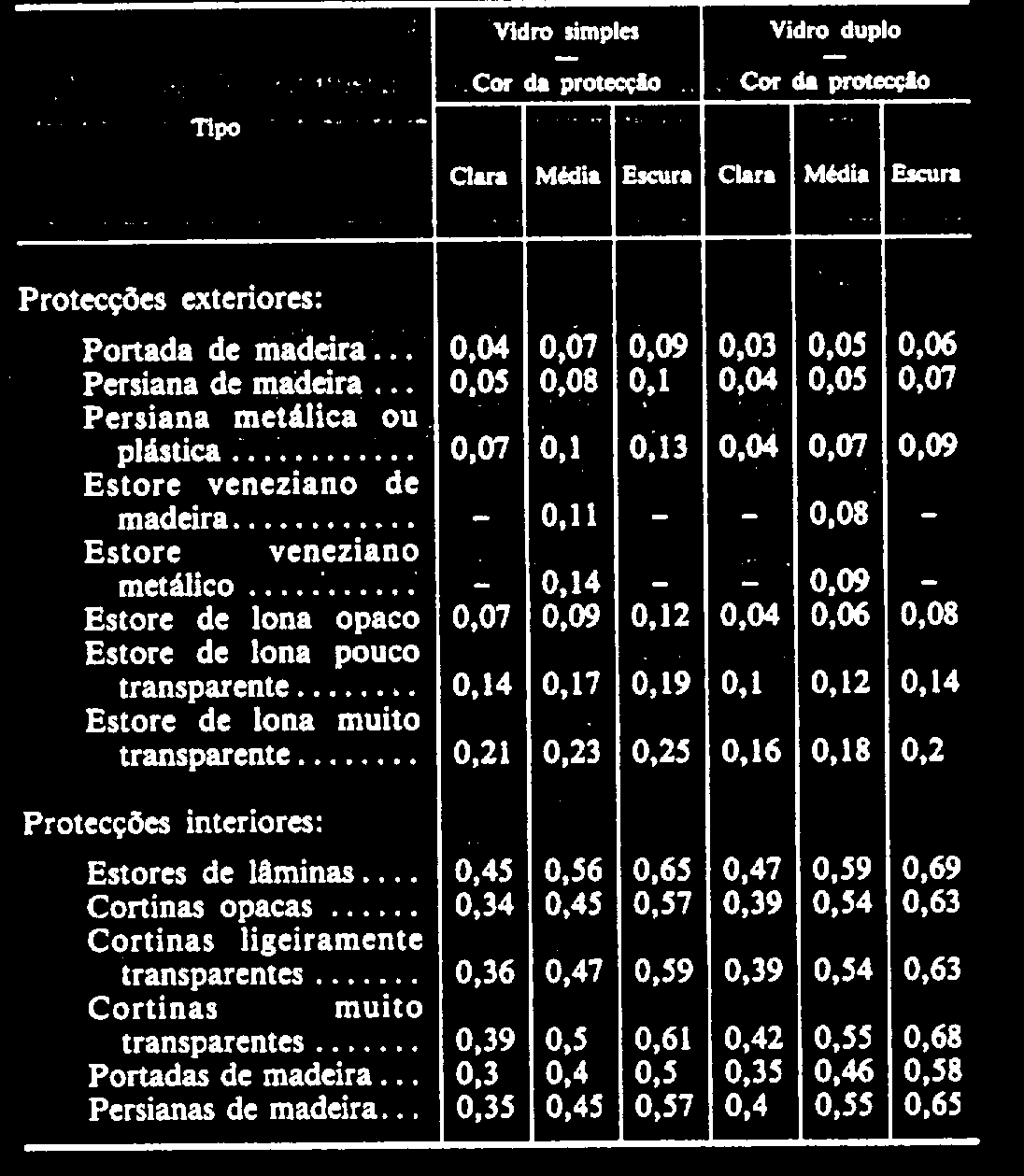
Quadro VI.9
Factor solar para alguns tipos de vidro sem protecção